
Ontem à noite assisti ao filme Le bonheur (1965), da diretora Agnès Varda. A primeira vez que tive contato com Agnès foi em 2019, o ano em que ela faleceu. Na verdade, isso acontece comigo as vezes: conhecer o trabalho de uma artista após a sua morte. O ano em que eu cheguei a Portugal, 2022, foi também o ano em que conheci as pinturas da artista portuguesa Paula Rego.
Mas voltando à Agnès, conheci a diretora após me convidarem para desenvolver um troféu para uma mostra de cinema intitulada Lugar de mulher é no cinema (2019), cuja homenageada daquele ano foi justamente Agnès Varda. Nunca tinha assistido a nenhum filme dela. Na verdade, dá um pouco de vergonha admitir, mas aNouvelle Vague nunca foi exatamente o meu movimento favorito – ao contrário das minhas amigas, que amavam Godard e Truffaut. Varda, sinceramente, não tinha ouvido falar.
Fui procurar sobre ela na internet e, ainda hoje, acho engraçado como simpatizei com o rosto dela logo de primeira. Parecia alguma amiga do meu pai que eu conheci, mas havia esquecido – uma sensação muito estranha e familiar ao mesmo tempo. Naquele momento, eu estava entre mil coisas: mudança de casa, escrita do projeto para o mestrado, criação de um troféu… Tentei assistir a um dos filmes da mostra, mas não consegui. Acabei não conhecendo o trabalho da senhora antes de homenageá-la – com dez replicas, em madeira, inspiradas no rosto de Varda.
Bom, seis anos após esse primeiro encontro desencontrado, finalmente assisti a um filme da Agnès Varda. E, claro, amei. Mas já comecei a assistir sabendo que não teria como não amar. Afinal, eu a conheço há seis anos – seis anos lendo matéria sobre ela, vendo fotografias, textos de pessoas apaixonadas pelo seu trabalho. Era como se eu estivesse tentando aprender um pouco sobre ela antes de ver, de fato, sua obra. E, confesso, tive também um certo medo de, por algum motivo, eu não gostar do trabalho da Varda. Imagina só, que vergonha – que tipo de feminista seria eu?
Mas achei o filme de uma força e beleza magistral. Que cores, que detalhes! Ou, como disse o meu namorado: “parece propaganda do Estado Novo”. Sim, parece, intencionalmente. Uma vida de dona de casa idealizada, uma grande propaganda, que só funciona para um lado. A felicidade segundo quem?
O filme me fez lembrar dos trabalhos da artista Martha Rosler, como House Beautiful: Bringing the War Home (1967-72) e Semiotics of the Kitchen (1972). Obras importantes que criticam justamente esse imaginário construído em torno da posição da mulher na sociedade – e da constante alegria que ela deve exibir diante do lar, da família e da vida.
E é essa “perfeição” – imposta pelos homens – que transforma o casamento em um estado autoritário, tão bem representado no filme. A violência no filme, não parte diretamente do François, o protagonista. Como poderia? Ele é a gentileza, o amor, a felicidade em pessoa. As mulheres orbitam ao seu redor, como luas – sem brilho próprio ou, melhor dizendo, refletindo o brilho descomprometido de François.
Dentro dessa reflexão sobre a posição da mulher – diante da casa, da cozinha, do trabalho -, penso sempre nesse estado autoritário que nos foi imposto. Durante muito tempo, acreditei que fosse algo do passado. Mas agora, mais velha, comecei a entender o passado como algo paralelo e não tão distante. Por muito tempo, vi o passado como algo que já passou. Mas, nesse caso, as palavras foram muito injustas com as minorias.
A palavra “passado” só favorece quem deseja que certas coisas sejam esquecidas. Prefiro a palavra “história” – ainda que ela também possa ser confundida com algo inventado, criado e muito distante do presente. Dito isso, concordo que a história da mulheres e das ex-colônias são muito semelhantes. Nós, mulheres, fomos colonizadas pelos homens. Regras nos foram impostas, território delimitados. E, assim como nas ex-colônias, a nossa história tem pouco mais de cem anos de mudança – e isso não é nada perto dos outros quinhentos.
É por isso que as leituras que faço das feministas dos anos setenta são tão atuais. Talvez cinquenta anos pareça muito no tempo humano – afinal vivemos em média setenta. Vinte desses estamos aprendendo a viver, e os outros cinquenta… tentando mudar algo que, provavelmente, não veremos mudar.
Dito isso, porque esse post se chama Tamarindo e tem a imagem de um trabalho meu feito em tecelagem? Bom, para mim, tudo está completamente conectado. Tenho desenvolvido uma série de trabalhos com tamarindos dentro dessa reflexão sobre ser mulher e imigrante – vivendo justamente no país que colonizou o Brasil. Seria impossível não chegar a essa conexão. Falar sobre feminismo e decolonialidade faz todo sentido quando você é uma mulher imigrante. É como se essas reflexões tomassem café da manhã com você todos os dias.
Eu não planejei esse tema – ele me encontrou. Tudo começou com uma sensação muito engraçada: sentir saudade de coisas simples, como comidas e frutas. Passei a me conectar com esse choque cultural entre os sabores que não faziam parte do meu cotidiano e as frutas das quais eu sentia falta.
Então, um dia, eu encontrei tamarindo no mercado. Não é uma fruta que se acha com facilidade nos grandes supermercados portugueses, mas lá estava: um tamarindo. Comprei, muito feliz com a ideia de que, ao comer aquela fruta, seria transportada de volta aos dias de estudante na Escola de Belas Artes – quando comprava um saco de tamarindo em frente à universidade e comia na sala de aula. Um azedo horroroso, que só quem sente prazer em doer os dentes com tamarindo pode entender.
Comprei, não sei ao certo, mas algo como duzentas gramas, talvez nem isso. Cheguei em casa e quebrei um.
Doce.
Sim, o tamarindo, em Portugal, é doce. Parece mais uma tâmara, tentei contar isso para todas as pessoas que eu sabia que conheciam o tamarindo azedo, e elas não acreditaram em mim. Acreditaram, talvez, mas não entenderam. A vivência é realmente algo muito individual. Acho que, se tivessem me contado que existia tamarindo doce, eu também não acreditaria. Assim como talvez não faça sentido, para alguém que só conhece o tamarindo doce, imaginar o quão azedo ele pode ser – pior que limão.
Fiquei mais incrédula com isso do que talvez outras pessoas. Como pode ser doce? De onde vem esse tamarindo? E o tamarindo brasileiro – é realmente brasileiro?
E assim eu comecei a investigar a origem do tamarindo e descobri que aquele que eu havia comprado vinha da Tailândia. Ok, eu já sabia que os tailandeses usavam tamarindo – o Pad Thai , por exemplo, leva molho de tamarindo. Inclusive, tem uma história política muito interessante por trás da produção do Pad Thai como parte de um projeto nacionalista tailandês para construção de identidade cultural.
Dentro desse interesse pelo Tamarindo, descobri que ele foi levado para o Brasil pelos portugueses, vindo de Africa. A partir disso, comecei a pensar em todas as frutas das quais eu sentia saudades e descobri que a grande maioria das frutas que eu sentia saudade não era originalmente brasileira. Ou seja, tinham chegado junto com os portugueses.
E isso me deixou um pouco chateada. Frustrada, talvez. Essas frutas que pra mim sempre representaram afeto, infância, pertencimento, eram, na verdade, recordações de um período de violência. Frutos de outro tipo de relação.
Como artista visual, costumo pensar com as mãos – compartilhando pensamentos por meio de produção, plantando para colher. Foi assim que decidi explorar o tamarindo como a fruta de muitas sementes. O tamarindo doce e azedo; fruta da memória boa, mas também da ruim. Uma fruta que também é tronco. Visualmente, ela é muito interessante: uma casca fina que se parte com facilidade – mas não tão facilmente assim. O tamarindo se parece muito comigo, com a minha vivência em Portugal. Mas também me lembra a história das mulheres – sobre a dualidade de nascer mulher, do agridoce que é ser tamarindo.
É engraçado como uma fruta, ou uma comida, pode ser motivo de tanta reflexão. Mas é assim: fruta também é memória afetiva. Enquanto escrevia sobre o tamarindo, me lembrei do livro Chão de canela (2022), da autora Olinda Beja, que tive o prazer de comprar diretamente com ela. Chão de canela é um livro de contos, que compartilha a memória afetiva e também a travessia -nesse caso, da canela, especiaria que Beja chama de “…a mais viajada.” É um livro que a autora compartilha o afeto pela terra de onde veio, São Tomé, mas também com as amizades e amores que construiu ao longo do caminho.
Para concluir, a simbologia alimentar tem feito muito sentido para mim nesse momento – mas não é tudo. É um parte de muitas coisas que me interessam, é possibilidade de experimentação.
(EN)
Last night, I watched the film Le Bonheur (1965), directed by Agnès Varda. The first time I came into contact with Agnès was in 2019, the year she passed away. Actually, that tends to happen to me — discovering an artist’s work only after their death. The year I arrived in Portugal, 2022, was also the year I first encountered the paintings of the Portuguese artist Paula Rego.
But back to Agnès — I first heard of her when I was invited to design a trophy for a film festival called Lugar de Mulher é no Cinema (2019), and that year’s honoree was Agnès Varda. I had never watched any of her films. In fact, I’m a bit ashamed to admit it, but the Nouvelle Vague was never really my favorite movement — unlike my friends, who adored Godard and Truffaut. As for Varda, honestly, I had never even heard of her.
I looked her up online, and to this day I find it funny how I instantly felt a connection to her face. She looked like one of my dad’s friends — someone I had met but somehow forgotten. It was such a strange and familiar feeling at the same time. Back then, I was in the middle of a thousand things: moving house, writing my master’s project, designing a trophy… I tried to watch one of the films from the festival, but I couldn’t. I didn’t get to know her work before honoring her — with ten replicas in wood, inspired by Varda’s face.
Well, six years after that first missed encounter, I finally watched a film by Agnès Varda. And, of course, I loved it. But I already started watching it knowing I would love it. After all, I’ve “known” her for six years — six years reading articles about her, seeing photographs, and reading the words of people deeply in love with her work. It was as if I had been trying to get to know her before actually seeing her films. And, I must confess, I was a bit afraid that, for some reason, I wouldn’t like Varda’s work. Imagine that — what kind of feminist would I be?
But I found the film to be powerful and breathtakingly beautiful. The colors, the details! Or, as my boyfriend said: “It looks like a propaganda piece from the Estado Novo.” And yes — it does, intentionally. An idealized housewife life, a grand piece of propaganda that only works for one side. Happiness, according to whom?
The film reminded me of works by the artist Martha Rosler, like House Beautiful: Bringing the War Home (1967–72) and Semiotics of the Kitchen (1972) — important works that critique the imaginary constructed around the woman’s role in society, and the constant joy she’s expected to show in relation to the home, the family, domestic life.
And it’s this idea of “perfection” — imposed by men — that turns marriage into an authoritarian state, so well depicted in the film. The violence, I believe also intentionally, does not come directly from François, the main character. How could it? He is gentleness, love, happiness personified. Women orbit around him like moons — without a light of their own, or rather, reflecting the uncommitted glow of François.
In thinking about the woman’s role — in the house, the kitchen, the workplace — I often reflect on this authoritarian state that has been imposed on us. For a long time, I believed it was something from the past. But now, older, I’ve started to understand the past not as something behind us, but as something parallel. For a long time, I thought the past had passed. But in this case, words have been very unfair to minorities.
The word “past” only benefits those who want certain things to be forgotten. I prefer the word “history” — even though it too can be confused with something invented, created, or too distant from the present. That said, I do believe that the history of women and that of colonies are quite similar. We, women, were colonized by men. Rules were imposed on us, territories demarcated. And just like with the colonies, our story has little more than a hundred years of change — which is nothing compared to the other five hundred.
That’s why reading the feminists of the 1970s still feels so relevant. Maybe fifty years seems like a long time in human terms — after all, we live an average of seventy years. Twenty of those we spend learning how to live, and the other fifty… trying to change something we probably won’t get to see change.
With that said, you might ask — why is this post called Tamarind and why does it feature a weaving piece I made? Well, for me, it’s all deeply connected. I’ve been working on a series of pieces using tamarind, as part of a reflection on being a woman and an immigrant — living in the very country that colonized Brazil. That connection was inevitable. Talking about feminism and decolonial thinking makes perfect sense when you are a woman immigrant. It’s as if those reflections have breakfast with you every single day.
I didn’t plan for this theme — it found me. It all started with a very strange feeling: missing simple things like food and fruit. I started noticing the cultural clash between the new flavors that entered my life and the ones I longed for.
Then one day, I found tamarind at the market. It’s not easy to find in Portuguese supermarkets, but there it was: a tamarind. I bought it, so happy with the idea that eating it would take me back to my art school days — when I used to buy a bag of tamarinds in front of the university and eat them in class. A horribly sour fruit — only those who enjoy dental pain from tamarind can understand.
I bought, I don’t know, maybe two hundred grams — maybe not even that. I got home, cracked one open.
Sweet.
Yes, tamarind in Portugal is sweet. It’s more like a date. I tried to explain this to everyone I knew who had tasted sour tamarind before, and they didn’t believe me. Or they believed me, but didn’t really get it. Lived experience is very individual. Honestly, if someone had told me there was such a thing as sweet tamarind, I probably wouldn’t have believed them either. Just like it might not make sense to someone who’s only known the sweet kind to imagine just how sour it can be — worse than a lemon.
I was more shocked by this than maybe I should’ve been. How can it be sweet? Where does this tamarind come from? And Brazilian tamarind — is it even Brazilian?
So I started researching tamarind’s origin and found out that the one I had bought came from Thailand. Okay, I already knew the Thais used tamarind — Pad Thai, for example, uses tamarind sauce. There’s even an interesting political history behind the creation of Pad Thai as a nation-building dish in Thailand.
Digging deeper into my tamarind obsession, I discovered that tamarind was brought to Brazil by the Portuguese, coming from Africa. From there, I started thinking about all the fruits I missed — and realized most of them weren’t native to Brazil. They had also arrived with the Portuguese.
And that left me feeling a bit upset. Frustrated, maybe. Those fruits that represented affection, childhood, belonging — were, in fact, memories tied to a period of violence. Fruits from another kind of relationship.
As a visual artist, I often think with my hands — sharing thoughts through making, planting in order to harvest. That’s how I decided to explore tamarind as the fruit full of seeds that it is. The sweet and sour tamarind; a fruit of good memories, but also of bad ones. A fruit that is also a trunk. Visually, it’s fascinating — a thin shell that cracks easily, but not that easily. Tamarind feels a lot like me, like my experience in Portugal. But it also reminds me of women’s histories — the duality of being born a woman, the bittersweetness of being tamarind.
It’s funny how a fruit, or a food, can be the source of so much reflection. But that’s how it is — food is also emotional memory. While writing about tamarind, I remembered the book Chão de Canela (2022), by the author Olinda Beja, which I had the pleasure of buying directly from her. Chão de Canela is a collection of short stories that weave together emotional memory and the theme of journey — in this case, through cinnamon, a spice that Beja calls “…the most traveled.” It’s a book where the author shares her affection for the land she came from, São Tomé, but also for the friendships and loves she built along the way.
To conclude, food symbolism has made a lot of sense to me at this point in my life — but it’s not everything. It’s one part of many things that interest me. Above all, it’s a space for experimentation.
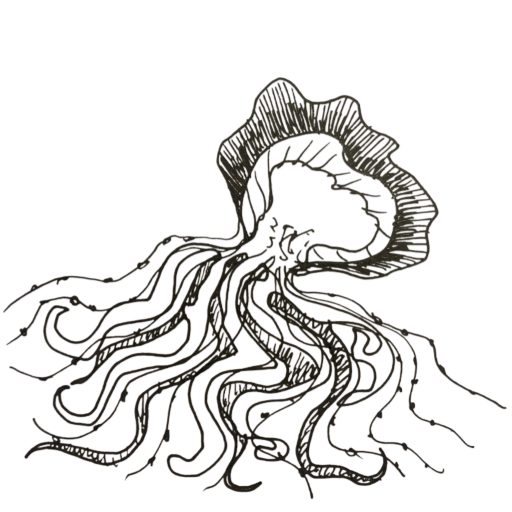
Deixe um comentário